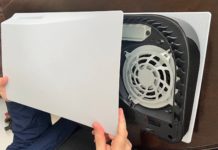Fica frio, amigão. Não vou falar aqui da minha já famosa implicância com empurração de caixas, até porque meu trauma quanto a isso tem diminuído bastante nos últimos meses, já que na geração atual, isso não é tão prevalecente quanto na anterior. A minha ideia aqui é analisar como os games evoluíram desde seu surgimento, não na parte técnica, mas na criativa mesmo. Até porque já temos aqui um textão falando bastante da parte técnica. O objetivo é falarmos do paradigma, o “molde” onde os principais jogos de cada época se encaixavam.
GÊNESE
Puxe da memória e lembre comigo da época do Atari. Lembra como eram os jogos? Via de regra, o seu principal objetivo era conseguir pontos. Alguns jogos, como River Raid ou Pac-Man, até permitiam que você avançasse para novas fases, mas elas eram bastante parecidas umas com as outras e, se você passasse por todas, normalmente voltava para uma versão mais difícil da primeira. Os games eram praticamente infinitos e só terminavam quando suas vidas acabavam.
Na época do Nintendinho e do Master System, o foco começou a mudar. Pontos ainda eram importantes, mas agora os jogos tinham um final, que é quando o jogador atingia seu objetivo, concluindo a história.
Essas histórias eram bastante primitivas se comparadas às de hoje em dia. Peguemos, por exemplo, Double Dragon. Quando você inicia o jogo, vê uma garota sendo raptada por um bando de mal-encarados musculosos. Imediatamente, a portinha da garagem abre e surgem, gloriosos, os irmãos Billy e Bimmy Jimmy Lee, prontos para chutar uns traseiros de homens que pareciam feitos de pedra (limitações técnicas, claro, pois os criadores nunca tiveram a intenção de fazer o Abobo ser um monstro).
Quatro fases depois, você finalmente alcança o cativeiro da sua pequena. Mas, para libertá-la, precisa antes matar o vilão e, se estiver jogando em duas pessoas, também deve matar seu irmão. Depois disso, a tetéia se liberta sozinha de suas amarras e beija o sobrevivente, ignorando completamente o terrível fratricídio que acabou de ocorrer. Ah, e ela mostra a calcinha, numa das cenas mais sensuais da história dos games. =P
A história de Double Dragon se resumia a duas cenas. O rapto da moça e o beijo no final. Todo o resto era apenas andar para a direita porrando tudo que se mexe. E ninguém imaginava que isso poderia ser ainda melhor. Aliás, ainda é difícil imaginar algo melhor que isso, fala a verdade. ^^
Lembro do primeiro jogo com fim que zerei: Black Belt, do Master System. Quando você começava o jogo, ele já te colocava direto na porrada. Porém, lendo o manual, o jogador descobre que seu objetivo, como em 90% dos jogos da época, é salvar seu broto.
Depois de derrotar o malvadão Wang, ele levanta o braço e muda de cor, seu personagem anda para outra sala, pega a moçoila no colo e sai andando. Aparece uma tela cheia de texto (na época, por causa dessa tela e do victory separado do texto, como uma assinatura, todo mundo achava que o nome da moça era “Victory” – ninguém sabia inglês ainda) e depois um símbolo oriental que deve significar fim. Se liga, a partir dos cinco minutos no vídeo abaixo:
Cara, quando eu terminei esse jogo, esse finalzinho que hoje parece tosco me deixou deveras emocionado. Eu demorei umas semanas para conseguir chegar ao final, pois tem um macetinho para matar cada chefe e, como não tinha internet na época, a gente tinha que descobrir na raça (eu fiquei semanas no maldito Oni, cujo macetinho você pode ver no vídeo acima). Toda noite, eu e minha mãe ficávamos tentando descobrir como passar dali. Assim, quando finalmente matei o Wang, liguei para a minha mãe no trabalho e contei emocionado como o final parecia um filme, e como era romântico.
Além do fato de que eu tinha só dez aninhos, era a primeira vez que atingia um objetivo de verdade num game, algo que não era simplesmente bater um recorde em pontos. Eu investi muitas horas para salvar a “Victória” e fiquei realmente feliz por ter conseguido. E hoje, assistindo a esses vídeos, volto a me emocionar pela relação afetiva que tive com esse jogo e com suas músicas tremendonas.
Essa foi a primeira mudança considerável que consigo apontar no paradigma dos games: cada jogo trazia um objetivo a ser cumprido, seja salvar uma garota, ou mesmo o mundo de um caboclo malvadão. Os pontos estavam lá, nas tabelinhas de high score que resetavam cada vez que você desligava o console, mas foram se tornando cada vez mais irrelevantes. O que importava agora era fechar a história, por mais primitiva que ela fosse. E, como você pode ver nos exemplos acima, elas eram bem primitivas. Mas ninguém se importava, claro. Terminar um jogo dava uma sensação de vitória inigualável.
A NARRATIVA APARECE
Pouco depois, começaram a surgir os adventures. Nesses jogos, o principal foco era na história. A gameplay em si era primitiva, pois, em sua maioria, era só apontar e clicar no que você queria pegar ou no sujeito com quem você queria conversar. E foram nesses jogos que comecei a ver, pela primeira vez, histórias mais elaboradas.
Maniac Mansion foi um dos primeiros, mas sua continuação, Day of the Tentacle, talvez tenha sido a mais inovadora, pois trabalhava em três linhas temporais diferentes e o que você fazia no passado afetava o mundo nas versões do presente e do futuro.
Meu preferido, no entanto, sempre foi – e ainda é – a série Monkey Island. As desventuras de Guybrush Threepwood, poderoso pirata, ainda hoje rende boas risadas nas minhas conversas com pessoas que viveram a época. Na maior parte desses jogos não existia pontos. Seu objetivo era simplesmente ver a história até o fim.
Ainda nos jogos com narrativa forte, temos os RPGs. Eles tinham a narrativa igualmente desenvolvida, mas uma gameplay mais complexa que a dos adventures. Porém, eram vistos por muita gente (eu, inclusive), como complicados demais. Eu até gosto dos RPGs de mesa, mas nunca tive paciência para os de videogame.
Nessa época, então, tínhamos três tipos de jogos: aqueles cujo objetivo era fazer cada vez mais pontos, outros com histórias primárias, mas cujo objetivo era chegar até o fim, e finalmente aqueles com histórias mais elaboradas, mas que muitas pessoas sequer consideram como jogos, de tão simples que eram suas jogabilidades. E foi aí que veio o Out of This World.
Esse jogo trouxe para os consoles gráficos que eram comuns em jogos de PC, mas que jogadores sem computadore nunca tinham visto antes. Na época, eram chamados de “gráficos vetoriais” pelas revistas, mas depois acabou sendo popularizado como “poligonais” ou, simplesmente, “3D”. Esse tipo de visual era, ao mesmo tempo, lindo e horroroso. Era lindo pelas animações, que pareciam realmente se mover. E era horroroso porque era muito mais simples e quadradão do que os gráficos tradicionais. Se liga:
Como a principal mídia da época eram as revistas, víamos apenas as imagens estáticas e, bem… elas eram horríveis. Como você deve imaginar, Out of This World definitivamente não era um jogo atraente para as crianças da época, que não entendiam como diabos aquele troço precário estava sendo louvado como a melhor coisa a surgir no mundo desde o bacon.
Porém, quando você jogava, não tinha como não ficar embasbacado. A sensação era de estar jogando um filme, tamanho era o cuidado com o clima e com a narrativa. Se hoje você paga um pau para Bioshock, saiba que foi aí que o foco na narrativa e na profundidade da história de um jogo de ação começou.
Outra inovação começada com Out of This World foram os gráficos. Os polígonos começaram a dominar os jogos, e isso mudou também a forma de jogar. Esses gráficos tridimensionais possibilitavam que o jogador andasse em qualquer direção, o que exterminou dolorosamente o divertido paradigma “basta andar para a direita para alcançar seu objetivo”.
Outros jogos vieram, as histórias foram ficando mais complexas, assim como os gêneros e seus objetivos. Porém, o paradigma era o mesmo. Seu objetivo era sempre chegar ao fim. Inclusive, tornou-se raro vermos um jogo com pontos.
O foco na pontuação, contudo, continuava em alguns gêneros específicos, especialmente os mais simples, voltados para um público mais casual. Puzzles ou jogos de música, como Dance Dance Revolution e Guitar Hero tinham sua longevidade na tentativa de melhorar, fazer mais pontos ou atingir as cinco estrelas, no caso do GH.
Ao mesmo tempo em que os jogos de ação foram melhorando suas histórias, os adventures foram desaparecendo, deixando milhares de fãs do gênero órfãos.
SALVE O MUNDO, MAS NÃO SE ESQUEÇA DE SALVAR O JOGO
Esse foco em terminar os jogos, em concluir sua história, foi se tornando cada vez mais importante, ao mesmo tempo em que os jogos foram “crescendo” em tamanho. Na época do Mega Drive, jogos como Toe Jam & Earl, que duravam algumas poucas horas, eram considerados longos. A imensa maioria durava bem menos de uma hora e meia.
Claro, saves eram artigo de luxo nos consoles e pouquíssimos jogos tinham esse luxo (o primeiro do qual me lembro foi Super Mario World, de Super Nes, mas alguns RPGs já tinham essa função antes). E, por causa dessa duração curta (e do tempo livre que tínhamos), cada jogo era terminado dezenas, talvez centenas, de vezes.
Porém, quando os saves foram se popularizando, os desenvolvedores perceberam a oportunidade para fazer jogos mais longos, com histórias que se desenvolviam durante sua duração, não apenas no início e no fim. Dessa forma, a duração dos jogos também cresceu – o que acabou mudando a forma que os gamers o encaravam. Desde então, a maioria das pessoas joga cada game apenas uma vez. Tenho um amigo, inclusive, que vende seus jogos assim que os termina. Hoje, um jogo que dura seis ou sete horas, como God of War III, é considerado curto.
Para tentar aumentar a longevidade dos seus produtos e impedir a venda de usados, os desenvolvedores começaram a trabalhar com finais múltiplos (que já existiam em alguns jogos mais centrados em história, como os adventures e RPGs), aumentando ainda mais o foco na narrativa.
O ponto máximo desse foco na narrativa provavelmente foi o Metal Gear 4 que, para cada cinco horas de filme, te deixa jogar por 30 minutos.
CONSOLES CONECTADOS
Finalmente, chegamos aos dias de hoje, e é possível perceber algumas mudanças nessa filosofia de design com foco em “terminar” o jogo. Com a popularização da internet e os consoles conectados a ela, o paradigma parece estar mudando para o online. Cada vez mais vemos jogos cujo foco é o multiplayer. Call of Duty é um ótimo exemplo disso, pois traz campanhas muito boas, porém bastante curtas, que podem ser finalizados em uma tarde. Por outro lado, trazem um modo multiplayer tão desenvolvido e planejado que a maior parte dos fãs compra apenas por isso.
Esse paradigma do foco no multiplayer, inclusive, está tornando comum o lançamento de jogos como MAG, que sequer trazem a possibilidade de jogar sozinho. Aliás, no exemplo em questão, é possível fazer partidas com 256 jogadores.
Infelizmente, boa parte desses jogos focados no online focam também em partidas competitivas. São raríssimos os títulos que permitem que você jogue a campanha cooperativamente ao lado de um amigo, seja este amigo real ou virtual.
O paradigma online continua, afetando a filosofia dos pacotes de expansão. Antes, você comprava um “jogo extra” que continuava sua história. Hoje, você compra novas fases, novas músicas e demais tipos de conteúdo adicional. A meu ver, é aqui que o terreno começa a ficar perigoso. Ou vai dizer que você nunca pegou um jogo que parece ter sido vendido com o mínimo de conteúdo possível, pois o grosso do gameplay seria vendido depois, através da internet? Um ótimo exemplo disso é Pain, jogo baixável que vem com algumas versões do PS3. O jogo original tem 50 mega, mas ele já teve mais de 10 GB de atualizações!
Outro exemplo mais conhecido é Prince of Persia. O jogo simplesmente não tem final. O que parecia ser uma aventura incompleta, que eventualmente ganharia uma continuação, ganhou contornos irritantes quando o final do jogo apareceu na rede online dos consoles, para ser comprado. Embora tenha vindo incompleto, o preço, obviamente, foi total (60 dólares, o preço padrão para jogos nos EUA). Basicamente, isso é uma forma desonesta de aumentar o preço pelo jogo, com a diferença de que você não é avisado com antecedência que está comprando um produto incompleto. Ou seja, se você não quiser desembolsar a grana extra, ou não tem seu console conectado à internet, nunca terá o direito de ver o final da história.
Assassin’s Creed II é outro que simplesmente pula várias “sequências” (fases) perto do final, esperando que você as compre para ver a história completa, deixando um buraco nojento na narrativa, semelhante ao “rolo faltando” de Planeta Terror, mas muito menos engraçado e mais desrespeitoso. O pior de todos, contudo, é Soul Calibur IV, que traz no disco os personagens Yoda e Darth Vader, mas cada console (PS3 ou Xbox 360) tem apenas um dos dois liberado. Se quiser o outro, tem que pagar. E o conteúdo já está no disco, caramba!
USER GENERATED CONTENT
Outra forma de uso online que me preocupa é também a mais recente: o conteúdo gerado por usuários. Isso já existia nos idos dos anos 90. Jogos como Doom recebiam frequentemente fases extras criadas por fãs, muitas delas recriando ambientes de outros jogos (lembro de uma bastante popular que recriava a mansão de The 7th Guest). Mas Doom era um jogo completo. Essas fases extras eram feitas por usuários que manjavam de programação e não eram apoiados pelo jogo ou pela sua desenvolvedora.
Isso tem mudado. Jogos como Little Big Planet trazem uma campanha curtíssima, que você pode matar em umas duas horas. Porém, o jogo constantemente te incentiva a procurar pelas fases de usuários colocadas na rede.
“LittleBigPlanet é praticamente infinito”, exclama a Sony e alguns usuários empolgados. De fato, isso é verdade. Você nunca vai conseguir jogar todas as fases criadas por usuários que estão disponíveis. Porém, quantas delas realmente são boas? Cá entre nós, já joguei algumas bem legais, mas a imensa maioria é dispensável, quando não são simplesmente ruins. E mesmo se todas fossem tão boas quanto as que vêm como o jogo, ainda assim seriam fases soltas, cujo único objetivo seria chegar ao final delas (o que normalmente leva menos de cinco minutos). Nada de campanha, narrativa ou objetivos aqui.
Assim, analisado friamente, LittleBigPlanet é um software cujo objetivo não é jogar seu conteúdo, mas construir fases e jogar fases de outros. Ok, mas ele também é vendido ao preço de um jogo completo, quando está mais para um browser do que para um jogo. Isso porque a desenvolvedora praticamente delegou seu conteúdo para pessoas que, via de regra, não vão ter o mesmo talento, cuidado e paciência quanto alguém que vive disso. E os jogadores ficam felizes com a possibilidade de que cinco ou seis pessoas eventualmente encontrem sua fase e a joguem. Isso é que é mão de obra barata.
Acredito que exista espaço para todas essas filosofias de design. Meu medo é que as editoras e desenvolvedoras discordem de mim e, cada vez mais, vejamos jogos que são apenas multiplayer ou que esperam que o conteúdo seja criado pelos usuários. A história nos mostra que sempre que algo novo surge no mundo dos games, a forma anteriormente usada é completamente esquecida (vide quão raros são hoje os jogos com gráficos não poligonais).
Isso não é legal. Tudo isso tem seu charme, mas a meu ver, nenhuma diversão de multiplayer competitivo vence a experiência de jogar um jogo com começo, meio e fim, uma campanha completa e empolgante, de preferência ao lado de um amigo, em cooperativo. Espero que não deixem isso morrer. E você?