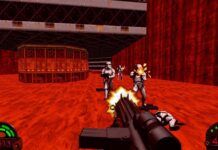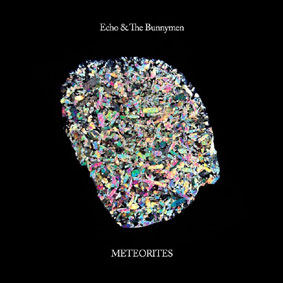Quem leu meu texto O Cyrino e o Rock – feito para o já muito distante especial do Dia do Rock de 2006 – sabe que o Echo & The Bunnymen é minha banda favorita. Diria que sou um tanto obcecado pelo segundo quarteto mais famoso de Liverpool de muitas formas que nem consigo explicar. E também de outras tantas maneiras que consigo botar em palavras.
Uma dessas maneiras que consigo justificar e que cai como uma luva para a resenha de seu novo álbum, Meteorites, o 12º disco de estúdio da carreira, é sua incrível capacidade para, mesmo com todos os fatores jogando contra, conseguir extrair alguns momentos de puro brilhantismo da adversidade. E, assim, criando alguma mágica a partir de um desastre em potencial, continuar justificando sua existência já há 36 anos.
Senão vejamos. A banda está reduzida à dupla Ian McCulloch (vocais e guitarra) e Will Sergeant (guitarra solo) e uma verdadeira porta-giratória de músicos contratados. O baterista Pete De Freitas morreu em 1989 e o baixista Les Pattinson pediu as contas uma década depois. A voz de McCulloch, outrora grandiosa e dramática, está há tempos um caco, um fiapo rouco incapaz de alcançar os graves e agudos de antigamente, devido a anos de excesso de álcool e cigarros. A maioria da imprensa especializada os enxerga como dinossauros que não souberam a hora de parar e vivem do circuito da nostalgia.
De fato, a qualidade geral de sua produção desde que o Echo & The Bunnymen voltou em 1997 após ter encerrado atividades no início da década de 90, tem sido bastante irregular. Mas quando acertam, como no caso de Siberia (2005), o resultado mais que compensa os escorregões. Meteorites se encaixa nessa segunda categoria, embora o resultado não seja perfeito como o supracitado Siberia.
É um disco de momentos. Nem todas as faixas acertam, mas as que acertam são na mosca, e isso acaba levantando a qualidade geral. O que mais me chamou a atenção nas primeiras audições, contudo, foi o teor das letras. Trata-se de um álbum de contemplação. Ian McCulloch parece ter chegado naquele ponto da idade onde se dá aquele vislumbre geral de sua vida. Ele olha para trás e vê um passado cheio de erros e arrependimentos, de coisas que poderia ter feito diferente. Olha para frente e vê um futuro não muito animador, pouco esperançoso. Dá-se conta de que o fim está cada vez mais próximo.
Desde que assumiu um tom menos poético e cifrado e mais direto e confessional em suas letras a partir de Evergreen (1997), este é talvez seu disco liricamente mais peito aberto, mais sincero e mais triste, embora os arranjos não necessariamente sigam a mesma toada das letras.
NENHUM SOBREVIVENTE SERÁ ENCONTRADO
Outro elemento que salta aos ouvidos é justamente o vocal de Ian. Sim, sua voz ainda está um trapo e jamais chegará perto do que era no auge, na década de 80. Mas o cara sabe usar muito bem o pouco que lhe restou. E ainda deu uma atenção especial ao trabalho de backing vocals, bem arranjados e criativos, o que ajuda a compensar sua pouca extensão vocal. Esse trabalho de vocais de apoio sempre foi presente na banda, mas neste disco ele está mais em primeiro plano que o de costume. E ajuda a deixar o disco com uma aura mais Pop e cantarolável.
A pegada reflexiva do álbum já fica clara desde a faixa de abertura, que dá nome ao disco, uma balada levada por um arranjo de cordas e que cresce de intensidade no refrão, quando entra a guitarra. Passa pela mais Pop Holy Moses, onde Ian questiona também sua espiritualidade e deixa a melancolia do vocalista mais explícita na auto-explicativa Is This a Breakdown? (Isso é um Colapso?).
Will Sergeant colabora como sempre com sua guitarra simples, porém extremamente inventiva, melódica e hipnótica. E é seu instrumento quem protagoniza os melhores momentos do disco. Constantinople, minha faixa favorita, com seus fraseados sombrios de pegada oriental que tanto lembram as canções de Porcupine (1983), Market Town com sua longa seção final distorcida e o primeiro single, a certeira Lovers on the Run, mostram que sua criatividade com as seis cordas continua afiada.
Já faixas como Grapes Upon the Vine, Burn It Down e Explosions são bonitinhas, mas estão fadadas a serem soterradas para nunca mais serem encontradas dentre o conjunto da obra da banda. Funcionam no tracklist do disco, mas não são aquelas que você vai querer ouvir quando pensar nele.
E como já virou tradição, a dupla sempre fecha com uma balada. New Horizons é a bola da vez, e parece algo requentado, seja da carreira solo de McCulloch (que sempre teve um gostinho pelo cafona), ou ainda do péssimo álbum auto-intitulado da banda de 1987. Sem dúvida a pior faixa do disco.
Meteorites está longe de ser perfeito, mas possui grandes momentos que compensam as faixas menos inspiradas. A essa altura da carreira, não se pode esperar que a dupla lance algo com a qualidade de um Heaven Up Here (1981) ou Ocean Rain (1984), mas é um dos discos mais interessantes desde sua volta, provando que eles ainda conseguem conjurar mágica das dificuldades. Apesar do caminho negativo vislumbrado por Ian McCulloch nas letras, a banda prova em música que ainda há sim lenha para queimar. Eu e minha obsessão agradecemos.